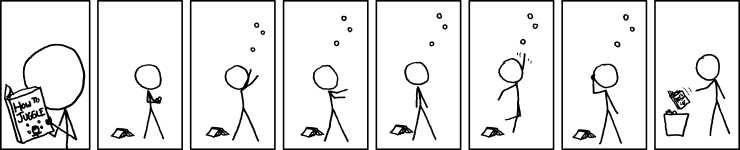Existem obras que são marcantes por motivos que são difíceis de explicar. Este é certamente o caso da surreal e chocante Jacarandá, de Shiriagari Kotobuki. A primeira vista, a premissa do mangá de 300 páginas de Kotobuki pode parecer cômica: Tokyo é destruída em uma única noite por um gigantesco... Jacarandá.
Mas desta premissa tola, Kotobuki cria um dos mais chocantes e expressivos quadrinhos de catástrofe. E sem nada da comédia que se esperaria de tal premissa. Do contrário, há um plenamente crível tom crescente de pânico que se apodera da sociedade ante a ameaça representada pela árvore - um tom que toma o lugar do fascínio antes exercido pela misteriosa muda surgida em meio ao asfalto.
Antecedendo o desastre, e em sua alvorada, Kotobuki aproveita para incluir críticas incisivas ao comportamento da mídia, ao culto a celebridades, o moralismo e a cultura de consumismo e indiferença do Japão contemporâneo. Porém, isso rapidamente dá lugar a uma obra tétrica e surreal quando a inocente muda que virou alvo dos olhares públicos começa a crescer e suas raízes passam a ameaçar as estruturas e as tubulações de gás.
 |
| O improvável implemento da destruição. |
Contrariando a tradição em histórias de catástrofe, não há um “protagonista” ou personagem de ponto de vista em Jacarandá. O mais próximo de um personagem principal é a própria árvore, indiferente e inabalável em meio a destruição. O mangá não é sobre como pessoas, no individual, lidam com desastres: é sobre a tragédia em si. Não há uma narrativa tradicional em Jacarandá. Não existem atores, dramas humanos, conflitos ou soluções. Apenas a catástrofe improvável.
 Enquanto as raízes e a árvore continuam a crescer rapidamente, a destruição aumenta sem fim. Em meio as chamas e os prédios arruinados, impera o tão enigmático arauto da destruição, o Jacarandá. Nada está a salvo, nenhum lugar é seguro. Há algo nesta trama, que remete a certas obras específicas de desastre - nenhuma das quais sobre desastres naturais: Jacarandá tem o mesmo tom opressivo e alarmante do primeiro Godzilla e do filme britânico Threads.
Enquanto as raízes e a árvore continuam a crescer rapidamente, a destruição aumenta sem fim. Em meio as chamas e os prédios arruinados, impera o tão enigmático arauto da destruição, o Jacarandá. Nada está a salvo, nenhum lugar é seguro. Há algo nesta trama, que remete a certas obras específicas de desastre - nenhuma das quais sobre desastres naturais: Jacarandá tem o mesmo tom opressivo e alarmante do primeiro Godzilla e do filme britânico Threads.
A arte de Kotobuki não poderia ser mais apropriada. Desviando dos clichês artisticos de mangás, seu traço é sujo, apressado e um tanto disforme - mas ao mesmo tempo tem uma beleza onírica e uma expressividade rara. Poucas páginas parecem “finalizadas”, lembrando mais rascunhos apressados e tomados pelo mesmo pânico que se apodera de Tókio. Quase metade das páginas são dedicadas a cenas de destruição infernais que remetem a outro desastre, este nada natural: não é difícil ver a similaridade entre a destruição causada pelo Jacarandá e a causada pelas bombas Fat Man e Little Boy, em Hiroshima e Nagasaki.
 Jacarandá, no entanto, não é sobre os horrores da guerra nuclear: ele bebe do imaginário a respeito disso para construir sua visão tétrica do futuro. Nas palavras de Kotobuki, é uma história de recomeço (e uma “piada de 300 páginas” - não por ser “engraçada”, mas pelo absurdo). Uma salvação para o mundo ao custo da destruição da civilização. Um futuro macabro a ser evitado a qualquer custo, uma alegoria para uma “vingança de Gaia”, assim por dizer.
Jacarandá, no entanto, não é sobre os horrores da guerra nuclear: ele bebe do imaginário a respeito disso para construir sua visão tétrica do futuro. Nas palavras de Kotobuki, é uma história de recomeço (e uma “piada de 300 páginas” - não por ser “engraçada”, mas pelo absurdo). Uma salvação para o mundo ao custo da destruição da civilização. Um futuro macabro a ser evitado a qualquer custo, uma alegoria para uma “vingança de Gaia”, assim por dizer.
A obra pode ser lida em sites como Mangafox. Porém, eu recomendaria, se possível, adquirir uma cópia física - é uma obra excelente e que não depende de diálogos para ser compreendida. E da mesma maneira que Kotobuki, peço desculpas ao Jacarandá, essa árvore tão bela e inofensiva (cujas lindas flores representam o recomeço ao final de Jacarandá).
É plenamente compreensível que se discorde da minha interpretação de Jacarandá. Não há uma única análise correta e esta é a minha leitura. Então encerro com um convite ao debate, para quem aceitar o desafio de ler: para você, do que se trata o tão surreal mangá de Shiriagari Kotobuki?
É plenamente compreensível que se discorde da minha interpretação de Jacarandá. Não há uma única análise correta e esta é a minha leitura. Então encerro com um convite ao debate, para quem aceitar o desafio de ler: para você, do que se trata o tão surreal mangá de Shiriagari Kotobuki?